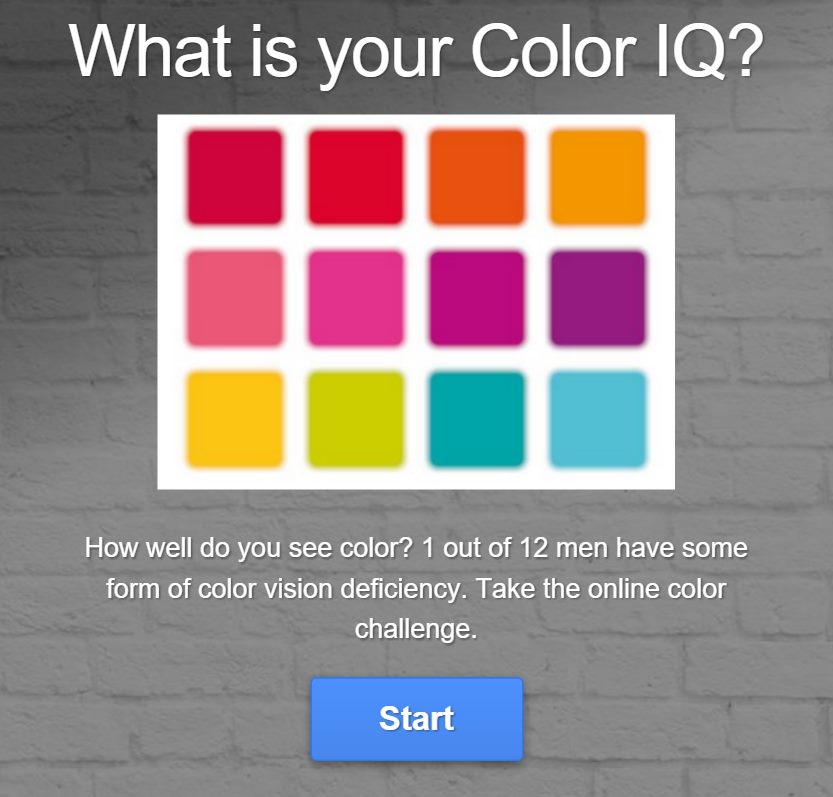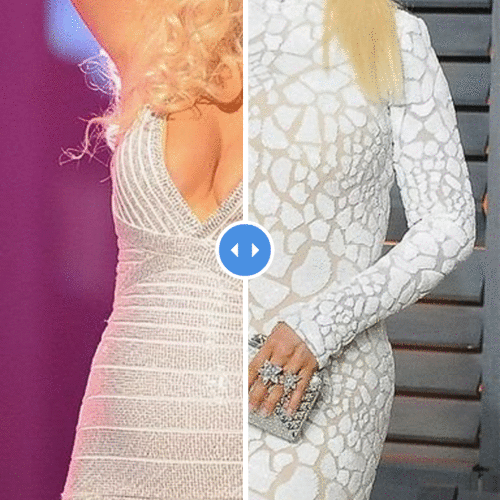Ana Isabel Neves e Susana Torres Coelho Sociedade de Advogados RL
Description
Escritório de Advogados
Tell your friends
CONTACT
RECENT FACEBOOK POSTS
facebook.comPresidente vetou lei do sigilo bancário
PORTAGENS ATRASADAS? VEJA COMO FAZER O PAGAMENTO. Se não paga as portagens de forma automática, pode ter dívidas por passar em autoestradas ou ex-SCUT’s. Aqui informamos como as pode descobrir e como pagar essas portagens atrasadas. Descobrir portagens atrasadas Sem identificador da Via Verde ou chip na matrícula, sempre que passar numa autoestrada com portagens fica em dívida perante a concessionária. Se não pagar até cinco dias úteis após a utilização, será notificado para o fazer e já vai pagar multa. Descubra se tem algum pagamento em atraso clicando no site dos CTT. É só inserir a matrícula da viatura e consultar, dentro do prazo de 5 dias. Após estes 5 dias pode consultar se existem portagens pendentes no site Pagamento de Portagens. Como pagar as portagens? Se nessa consulta descobrir taxas de portagem não pagas relativas a autoestradas com portagens eletrónicas, tem os 5 dias úteis para as pagar. Não só as taxas de passagem, mas acrescidas do valor dos custos administrativos. Pode fazê-lo num agente Payshop, numa estação dos CTT ou através do Multibanco. Para pagar numa caixa Multibanco, terá que solicitar a referência. Pode fazê-lo online através do CTT ou enviando uma SMS para o número 68989 com o seguinte conteúdo: CTTMB AA-00-00 Esta mensagem custa-lhe 0,30 euros, recebendo a SMS com os dados e, após o pagamento, mais uma SMS com o comprovativo. Passados os 5 dias úteis, tem ainda mais uma hipótese de pagar as portagens atrasadas. No espaço dos 15 dias seguintes, pode pedir à concessionária os dados para liquidar a dívida. E podem ser dados em duas formas: Entidade, Referência e Valor a Pagar para pagamento através de Multibanco ou homebanking; Número de notificação a incluir num vale postal que a operadora lhe envia para pagar nos CTT. De atraso a dívida Se também falhar esta oportunidade de pagar as portagens atrasadas, prepara-se para ser notificado pelas Finanças. Desde 2013 que estas dívidas são encaminhadas para a Autoridade Tributária e Aduaneira, responsável pela instauração dos respetivos processos de cobrança coerciva. Foi para evitar esta situação que se criou o Portal Pagamento de Portagens. Se o incumprimento chegar a este momento, as portagens vão sair-lhe ainda mais caras. É que além da taxa de passagem pela autoestrada e dos custos administrativos associados ao pós-pagamento, ainda terá que somar as coimas e custas do processo. Mas se o prazo de pagamento das suas taxas de portagem terminou antes de 31 de dezembro de 2014, poderá ver reduzida a despesa, já que o Governo criou um regime especial de regularização das dívidas em execução fiscal. Pagará menos de coima e de custas processuais e ainda ficará isento dos juros. De qualquer forma, o melhor será evitar esses atrasos no pagamento. Poderá fazê-lo se aderir à Via Verde ou solicitar um Dispositivo Eletrónico de Matrícula.
O REPRESENTANTE FISCAL A obrigação de nomeação de um representante fiscal, residente em Portugal, decorre de várias disposições legais previstas nos Códigos Tributários, como seja o artigo 19.º, n.º 6, da Lei Geral Tributária, o artigo 130.º, n.º 1, do Código do I.R.S., o artigo 126.º, n.º 1, do Código do I.R.C. e o artigo 30.º, n.º 2, do Código do I.V.A.. Assim, sempre que uma pessoa singular, residente no estrangeiro ou, ainda que residente em Portugal, se ausente do país por um período superior a seis meses, mas tenha aqui obtido rendimentos sujeitos a I.R.S., deve, «para efeitos tributários, designar uma pessoa singular ou coletiva com residência ou sede em Portugal, para os representar perante a Direção-Geral dos Impostos e garantir o cumprimento dos seus deveres fiscais», sob pena de aplicação de uma coima no montante de 75,00 € a 7.500,00 € (ex vi do artigo 124.º, n.º 1, do Regime Geral das Infrações Tributárias). O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou, no entanto, por Acórdão de 5 de maio de 2011, que esta obrigação era, por um lado, manifestamente excessiva face ao escopo da norma, uma vez que a eficácia do controlo fiscal e o combate à evasão fiscal poderiam ser assegurados por outros mecanismos, como os procedimentos de assistência mútua existentes entre Estados-Membros da União Europeia e, por outro lado, que a imposição desta obrigação aos contribuintes não residentes violaria o princípio da livre circulação de capitais, previsto no Tratado da União Europeia, na medida em que implicaria, para estes, a obrigação de efetuarem diligências especiais para efeitos de entrada no mercado português e, bem assim, a obrigação de suportar o custo da remuneração do seu representante – situação que, em boa verdade, era passível de dissuadir investimentos de capital em Portugal, designadamente investimentos imobiliários. Por estes motivos, dispõe o n.º 2, do artigo 130.º do Código do I.R.S., que a designação de representante fiscal é meramente facultativa «em relação a não residentes de, ou a residentes que se ausentem para, Estados-Membros da União-Europeia ou do Espaço Económico Europeu, neste último caso desde que esse Estado-Membro esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia» (sublinhado nosso). Sublinhe-se, por fim, que o representante fiscal não é o garante da obrigação principal do imposto. Isto é, as obrigações do representante circunscrevem-se ao cumprimento dos deveres acessórios do sujeito passivo e à receção das notificações dos atos de que este seja destinatário, não compreendendo, de todo, a responsabilidade pelo pagamento do imposto em caso de incumprimento do sujeito passivo, como se de um fiador se tratasse.
Lembre-se. Exigir fotocópia do cartão de cidadão é ilegal e pode dar multa
IGFEJ - Bases Jurídico-Documentais
Relação do Porto julga inconstitucional a remuneração variável do Agente de Execução sem preponderância sobre o seu grau de intervenção na lide No passado dia 02-06-2016, o Tribunal da Relação do Porto julgou a inconstitucionalidade do art.º 50.º, n.º 5 da Portaria n.º 282/2013, de 29 de Agosto, por violação dos princípios da proporcionalidade e da proibição do excesso (art.º 2.º da CRP) e por violação do direito de acesso à justiça e aos tribunais, quando interpretado no sentido de a remuneração variável do Agente de Execução é sempre devida independentemente do grau de intervenção deste para o sucesso da satisfação do crédito exequendo. Texto do acórdão: Ac. do TRP, proc. n.º 5442/13.9TBMAI-B.P1, de 02-06-2016, disponível em www.dgsi.pt «A questão que se coloca nos autos consiste em saber se esta remuneração adicional apenas é devida quando a recuperação da quantia tenha tido lugar na sequência de diligências promovidas pelo agente de execução e não é devida quando a dívida seja satisfeita ou garantida de modo voluntário, sem a intermediação do agente de execução. A exposição de motivos, como vimos, pode ser interpretada como apontando nesse sentido e foi com base nisso que o Mmo. Juiz a quo julgou procedente a reclamação da executada, no que, aliás, acompanha a posição do douto Acórdão da Relação de Coimbra de 03.11.2015, proferido no proc. n.º 1007/13.3TBCBR-C.C1, in www.dgsi.pt[1]. Salvo melhor opinião, a redacção dos artigos da Portaria não permite estabelecer essa relação e sobretudo estabelecê-la nos termos pressupostos na decisão recorrida. À partida seria muito difícil estabelecer ou determinar quando é que a recuperação da quantia teve lugar “na sequência de diligências promovidas”, para usar a expressão da exposição de motivos, sendo certo que “na sequência” não é o mesmo que “em consequência” ou “em resultado” e pode ser compatível “com a participação”, “após a intervenção”. Instaurada a acção executiva e iniciados os actos de apreensão de bens para futura e se necessária venda coerciva dos mesmos, todo o produto que se venha a obter para satisfação do direito do credor é “sequência” da actuação do agente de execução. E ainda que para esse desfecho este possa ter contribuído mais (v.g. quando o produto resulta da venda dos bens que ele realizou depois de ter praticado todos os actos anteriores), ou menos (v.g quando o executado para evitar a venda decide pagar voluntariamente a dívida), não parece possível afirmar que a actuação do agente de execução foi totalmente irrelevante para a obtenção do referido produto (mesmo no último exemplo pode sempre sustentar-se que a decisão do executado foi tomada em resultado da pressão exercida pela penhora dos bens realizada pelo agente de execução). A nosso ver, resulta da redacção do artigo 50.º da Portaria que desde que haja produto recuperado ou garantido a remuneração adicional é sempre devida, excepto numa situação, a de nos processos executivos para pagamento de quantia certa em que há lugar à citação prévia do executado este efectuar o pagamento integral da quantia em dívida até ao termo do prazo para se opor à execução (n.º 12), caso em que a intervenção do agente de execução foi apenas para realizar a citação, acto que não é exclusivo nem específico da acção executiva, pelo que se pode entender que a intervenção do agente que é própria da execução coerciva ainda não se iniciou. O critério da constituição do direito à remuneração adicional é a obtenção de sucesso nas diligências executivas, sucesso que ocorre sempre que na sequência dessas diligências, realizadas pelo agente de execução, se conseguir recuperar ou entregar dinheiro ao exequente, vender bens, fazer a adjudicação ou a consignação de rendimentos, ou ao menos, penhorar bens, obter a prestação de caução para garantia da quantia exequenda ou que seja firmado um acordo de pagamento, sendo certo que neste último caso o sucesso depende (da medida) do cumprimento do acordo (n.º 8). O legislador apenas excluiu a remuneração adicional nos casos em que a citação antecede a realização as penhoras e o executado efectua o pagamento integral da quantia em dívida até ao termo do prazo para se opor à execução, por presumir que nessa situação, não tendo ainda sido realizadas penhoras e devendo estas realizar-se apenas após a concessão de prazo para o pagamento voluntário, a actuação do agente de execução foi totalmente indiferente para a obtenção do pagamento e não gerou qualquer expectativa em relação à remuneração devida pelo seu envolvimento do processo. Em todas as demais situações em que haja valor recuperado ou garantido, a remuneração adicional é devida, ainda que a extinção da execução decorra de acto individual do devedor (pagamento voluntário), de acto conjunto de credor e devedor (acordo de pagamento) ou mesmo de um acto do próprio credor (desistência da execução, cf. n.º 2 do artigo 50.º). É esse, cremos, o sentido do que se fez constar na exposição de motivos da Portaria[2]. Não vemos, aliás, qualquer mal no sistema misto (a qualificação é do legislador) que combina remuneração fixa com remuneração adicional variável. Se o valor da remuneração fixa não for especialmente aliciante, a remuneração variável pode constituir de facto um forte incentivo à celeridade e eficácia da intervenção do agente de execução, sendo certo que enquanto profissional obrigado a respeitar fortes condicionantes no exercício da sua actividade lhe deve ser proporcionada justa e adequada remuneração. Por outro lado, se exigirmos que se demonstre um nexo causal entre a actividade do agente de execução e a forma de extinção da execução para se reconhecer o direito à remuneração adicional variável, estaremos a introduzir uma incerteza e insegurança na determinação da remuneração do agente de execução que seguramente o legislador procurou evitar com a criação de uma tabela de remuneração. Estaremos também a abrir a porta ao surgimento de inúmeros conflitos entre o agente e o devedor a propósito da remuneração que obrigarão os juízes de execução a decidir aspectos perfeitamente secundários quando se lhes retirou o grosso da intervenção relevante que até aí tinham no processo executivo. Estaremos ainda a incentivar o agente de execução a obstar a qualquer solução que não passe pela venda de bens para evitar perder essa fatia da remuneração ou a torná-lo parte activa em actos que só às partes dizem respeito, como a negociação entre credor e devedor para estabelecer acordos de pagamento. Por fim, estaremos a introduzir uma álea na determinação da remuneração (qual a medida da contribuição do agente de execução? como se calcula? como se demonstra? quem tem de a demonstrar? a percentagem prevista na Portaria deve depois ser corrigida em função da medida dessa contribuição?) que só pode redundar em forte prejuízo para a eficácia e celeridade do processo executivo. Nessa medida, entendemos que pese embora no caso a execução tenha sido extinta na sequência do acordo de pagamento em prestações celebrado por exequente e executado (e em cuja negociação e celebração o agente de execução não refere sequer ter estado envolvido ou para ela contribuído de algum modo, o que é algo absolutamente distinto da circunstância de o texto do acordo fazer várias referências a actos praticados pelo agente de execução), exactamente porque também nessa situação se verificam os requisitos de que depende o direito à remuneração adicional (alcance da finalidade do processo executivo e existência de valor garantido), o agente de execução podia reclamar uma remuneração adicional. Essa conclusão é independente da regularidade da citação da executada a que procedeu (questão que foi suscitada no processo mas não consta que haja sido decidida e não cabe aqui decidir em primeira mão), uma vez que no caso, a execução seguia a forma do processo sumário, no qual a penhora tem lugar antes da citação, o que exclui a situação da previsão do n.º 12 do artigo 50.º da Portaria n.º 282/2013, única em que se afasta o direito à remuneração adicional. Questão diferente que foi suscitada pela executada na reclamação da nota discriminativa de honorários e despesas é a de saber se a remuneração variável concretamente reclamada pelo agente de execução é, no caso, excessiva e desproporcionada e se a nossa ordem jurídica consente que a remuneração não tenha limite máximo e possa alcançar o valor em causa. Recorde-se que no requerimento executivo com que se iniciou a execução o exequente indicou à penhora quatro imóveis da executada sobre os quais incidem hipotecas para garantia do crédito exequendo e que foram esses imóveis que o agente de execução penhorou, tarefa na qual não se adivinha qualquer dificuldade ou esforço uma vez que por força das hipotecas que os oneravam e que estavam inscritas no registo os imóveis estavam perfeitamente identificados e registados. Para além dessas penhoras o agente de execução, por sua iniciativa, apenas penhorou mais um direito de crédito da executada (direito às rendas num contrato de arrendamento que celebrou com terceiro). Apenas dois meses após esta penhora, exequente e executada celebraram um acordo de reconhecimento de dívida e pagamento a prestações, no qual a executada se obrigou basicamente a pagar a quantia de €4.900.000. O agente de execução não reclama sequer que tenha estado envolvido, participado ou incentivado a celebração desse acordo. Nesse contexto factual, pergunta-se se o agente de execução pode ter o direito a uma remuneração variável, a acrescer à remuneração fixa por todos os actos que praticou, de €73.867,20? A nossa resposta é a de que essa remuneração é excessiva e desproporcionada, acabando por representar uma autêntica espoliação do executado que a ordem jurídica não pode consentir e, como procuraremos demonstrar, não consente. O pagamento ao agente de execução é um custo inerente ao processo executivo, integrando o conceito de custas processuais, particularmente o conceito de custas de parte. Nos termos do artigo 527.º do Código de Processo Civil a decisão que julgue a acção condena em custas a parte que a elas houver dado causa. Essa disposição inclui forçosamente as custas da execução, as quais, nos termos do artigo 541.º do mesmo diploma, incluem os honorários e despesas devidas ao agente de execução. As custas processuais abrangem a taxa de justiça, os encargos e as custas de parte (artigo 529.º), sendo que estas últimas compreendem entre outras despesas, as remunerações pagas ao agente de execução e as despesas por este efectuadas (artigo 533.º). No processo executivo, cabe ao exequente a designação do agente de execução (artigo 720.º) e a obrigação de pagar os respectivos honorários e o reembolso das despesas por ele efectuadas se não for possível obter o seu pagamento precípuo do produto dos bens penhorados (artigo 721.º). Todavia, se o executado não deduzir oposição à execução e/ou não obtiver vencimento nessa oposição, caso em que é responsável pelo pagamento das custas da execução, o pagamento das custas pelo exequente constitui um adiantamento destinado a assegurar que o agente de execução é pago, cabendo depois ao exequente o direito de reclamar o seu pagamento do executado a título de custas de parte (artigo 721.º). Se o exequente fosse o único e definitivo responsável pelo pagamento da remuneração do agente de execução por si escolhido, podíamos aceitar que a fixação desta remuneração estivesse subordinada à livre negociação entre exequente e agente de execução, não dispondo de limites máximos ou mínimos. No entanto, mesmo nessa situação podia questionar-se até que ponto a tabela praticada pelos agentes de execução não constituiria, em certos casos ou atingido certo nível de remuneração, um entrave excessivo ao acesso ao direito e aos tribunais por parte de exequentes com menor capacidade negocial ou poder económico para suportar esse pagamento que seria condição da instauração das execuções indispensáveis ao exercício dos direitos de crédito. Cabendo ao executado a obrigação de suportar a remuneração do agente de execução, que obviamente não escolheu e em cuja designação não foi sequer ouvido, a imposição legal dessa obrigação só pode ter o mesmo fundamento jurídico da imposição da obrigação de pagamento das custas processuais. Do que se trata, portanto, é de onerar o responsável pela necessidade de usar os meios judiciais com a obrigação de suportar a maior parte dos custos gerados por esses meios. Sendo assim, deve entender-se que essa obrigação tem de ser adequada e proporcional e não pode exceder aquilo que se mostrar razoável face ao envolvimento, ao esforço e ao contributo do agente de execução para o resultado do processo executivo. O princípio da proporcionalidade, também designado de princípio da “proibição do excesso”, é o corolário do princípio da confiança inerente à ideia de Estado de Direito democrático (artigo 2.º da Constituição da República Portuguesa). A propósito deste princípio enquanto pressuposto material para a restrição legítima de direitos, liberdades e garantias, Gomes Canotilho e Vital Moreira, in Constituição da República Anotada, Coimbra Editora, 3.ª ed., p. 152, escrevem que o mesmo se desdobra em três subprincípios: da adequação, da exigibilidade e da proporcionalidade em sentido restrito. Da adequação na medida em que qualquer restrição dos direitos, liberdades e garantias deve revelar-se como meio adequado para a prossecução dos fins visados pela lei (que passam pela salvaguarda de outros direitos ou bens constitucionalmente protegidos). Da exigibilidade porque tais medidas devem revelar-se necessárias, isto é, os fins visados pela lei não poderiam ser obtidos de forma menos onerosa para os direitos, liberdades e garantias. Da proporcionalidade em sentido estrito porque essas medidas e os fins obtidos devem situar-se numa “justa medida”. Mais à frente, a pág. 924 e a propósito do princípio da proporcionalidade referido no artigo 266.º, n.º 2, da Constituição os mesmos autores afirmam que a Administração “deve prosseguir os fins legais, os interesses públicos, primários e secundários, segundo o princípio da justa medida, adoptando, dentre as medidas necessárias e adequadas para atingir esses fins e prosseguir esses interesses, aquelas que impliquem menos gravames, sacrifícios ou perturbações à posição jurídica dos administrados”. Também Maria Lúcia Amaral, in A Forma da República – Uma introdução ao estudo do Direito Constitucional, Coimbra Editora, Coimbra, 2005, pág. 186, assinala que «quando falamos em proibição do excesso, ou em princípio da proporcionalidade em sentido lato, queremos significar essencialmente o seguinte. As decisões que o Estado toma, justamente pelo facto de não poderem ser nem ilimitadas nem arbitrárias, têm que ter, todas e cada uma delas, uma certa finalidade ou uma certa razão de ser. Esta finalidade, prosseguida por cada decisão estadual, deve ser para os seus destinatários – como para qualquer membro da comunidade jurídica – algo de detectável, denominável e compreensível. É evidente que o Estado, sempre que age, busca a melhor realização do interesse público. Mas tal não basta: o que é necessário é que, perante cada decisão, se possa compreender o modo específico pelo qual, naquele caso, se quis prosseguir o interesse de todos. É a isso mesmo que nos referimos, quando aludimos à “finalidade” ou “razão de ser” de cada decisão estadual é à necessidade da sua inteligibilidade. Ora, o que o princípio da proibição do excesso postula é que entre o conteúdo da decisão estadual e o fim que ela prossegue haja sempre um equilíbrio, uma ponderação e uma “justa medida”. Não se utilizam canhões para atirar a pardais: as vantagens (obtidas por todos) através da medida estadual devem ser proporcionais às desvantagens que tal medida tenha eventualmente causado a alguns membros da comunidade jurídica, de tal modo que o peso da decisão pública nunca venha a exceder o quantum requerido pela prossecução do seu fim.» No recente Acórdão n.º 277/2016 o Tribunal Constitucional reitera o entendimento segundo o qual «A proibição do excesso constitui, tal como o princípio da proibição do arbítrio, uma componente elementar da ideia de justiça, razão por que aquele princípio pode reclamar uma validade geral. Como realça Reis Novais, «[s]ó essa vinculação entre proibição do excesso, proporcionalidade, Estado de Direito e justiça explica que, apesar das substanciais diferenças dos textos constitucionais ou mesmo da sua ausência nesses textos, seja idêntica ou muito próxima a tendência de evolução que, a propósito, se desenvolve nos Estados Unidos da América ou nos diferentes países europeus, na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem ou na jurisdição comunitária» (Autor cit., Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa, Coimbra editora, Coimbra, 2004, p. 165). A mencionada conexão imediata com a ideia de justiça e de Direito justifica igualmente que, no tempo presente, se retomem as preocupações clássicas em matéria de moderação e, por conseguinte, não se confine o âmbito de aplicação da proibição do excesso às relações jusfundamentais em que esteja em causa a liberdade, alargando-o a toda e qualquer actuação dos poderes públicos. […] …o princípio do Estado de direito democrático consagrado no artigo 2.º da Constituição, pelas suas conotações históricas e devido à sua natureza de “princípio fundamental”, é expressão da ideia de que a garantia da liberdade, igualdade e segurança dos cidadãos se funda na sujeição do poder público a normas jurídicas: um Estado informado pela ideia de Direito não pode, sem negar a sua essência, ser um Estado prepotente, arbitrário ou injusto (cfr. os Acórdãos n.ºs 205/2000 e 491/2002). Nessa perspectiva, o Acórdão n.º 73/2009 entendeu «o princípio da proporcionalidade [como um] princípio geral de limitação do poder público que pode ancorar-se no princípio geral do Estado de Direito, impondo limites resultantes da avaliação da relação entre os fins e as medidas públicas, devendo o Estado (também o Estado legislador) adequar a sua acção aos fins pretendidos, e não estatuir soluções desnecessárias ou excessivamente onerosas ou restritivas». Deste modo, «as decisões que o Estado (lato sensu) toma têm de ter uma certa finalidade ou uma certa razão de ser, não podendo ser ilimitadas nem arbitrárias, e [tal] finalidade deve ser algo de detectável e compreensível para os seus destinatários. O princípio da proibição de excesso postula que entre o conteúdo da decisão do poder público e o fim por ela prosseguido haja sempre um equilíbrio, uma ponderação e uma “justa medida” e encontra sede no artigo 2.º da Constituição. O Estado de direito não pode deixar de ser um “Estado proporcional”» (cfr. o Acórdão n.º 387/2012; itálico aditado). Por isso, as actuações dos poderes públicos, justamente pelo facto de não poderem ser ilimitadas nem arbitrárias, são perspectivadas em cada caso concreto, real ou representado, como meios para atingir um certo fim – pressupondo-se naturalmente a legitimidade constitucional tanto dos primeiros como do segundo.» Já por diversas vezes o Tribunal Constitucional foi chamado a apreciar a conformidade constitucional de normas de custas judiciais que fixavam o valor das taxas de justiça apenas segundo o critério do valor da acção, não as indexando à complexidade do processo e/ou não permitindo que nos casos de simplicidade do processado o valor das taxas apurado por aquele critério pudesse ser reduzido a um valor adequado (por último o Acórdão n.º 508/2015, in www.tribunalconstitucional.pt [3]). O Tribunal Constitucional tem entendido com frequência, designadamente nos Acórdãos n.ºs 352/91, 1182/96 e 521/99, que o legislador dispõe de uma larga margem de liberdade de conformação em matéria de definição do montante das taxas. Todavia, também tem assinalado que «essa liberdade não implica que as normas definidoras dos critérios de cálculo sejam imunes a um controlo de constitucionalidade, quer no que toca à sua aferição segundo regras de proporcionalidade, decorrentes do princípio do Estado de Direito (artigo 2.º da Constituição), quer no que respeita à sua apreciação à luz da tutela constitucional do direito de acesso à justiça (artigo 20.º da Constituição); em qualquer dos casos, sob a cominação de inconstitucionalidade material». No Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 421/2013, citando o Acórdão n.º 227/2007 do mesmo Tribunal, afirmou-se que «a taxa de justiça assume, como todas as taxas, natureza bilateral ou correspectiva, constituindo contrapartida devida pela utilização do serviço público da justiça por parte do respectivo sujeito passivo. Por isso que, não estando nela implicada a exigência de uma equivalência rigorosa de valor económico entre o custo e o serviço, dispondo o legislador de uma «larga margem de liberdade de conformação em matéria de definição do montante das taxas», é, porém, necessário que «a causa e justificação do tributo possa ainda encontrar -se, materialmente, no serviço recebido pelo utente, pelo que uma desproporção manifesta ou flagrante com o custo do serviço e com a sua utilidade para tal utente afecta claramente uma tal relação sinalagmática que a taxa pressupõe. (…) Os critérios de cálculo da taxa de justiça, integrando normação que condiciona o exercício do direito fundamental de acesso à justiça (artigo 20.º da Constituição), constituem, pois, a essa luz, zona constitucionalmente sensível, sujeita, por isso, a parâmetros de conformação material que garantam um mínimo de proporcionalidade entre o valor cobrado ao cidadão que recorre ao sistema público de administração da justiça e o custo/utilidade do serviço que efectivamente lhe foi prestado (artigos 2.º e 18.º, n.º 2, da mesma Lei Fundamental), de modo a impedir a adopção de soluções de tal modo onerosas que se convertam em obstáculos práticos ao efectivo exercício de um tal direito». No Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 608/99, afirmou-se que em matéria de custas judiciais, “o princípio da proporcionalidade reveste, “pelo menos, três sentidos: o de «equilíbrio entre a consagração do direito de acesso ao direito e aos tribunais e os custos inerentes a tal exercício»; o da responsabilização de cada parte pelas custas «de acordo com a regra da causalidade, da sucumbência ou do proveito retirado da intervenção jurisdicional»; e o do ajustamento dos «quantitativos globais das custas a determinados critérios relacionados com o valor do processo, com a respectiva tramitação, com a maior ou menor complexidade da causa e até com os comportamentos das partes»”. De forma similar, ao analisar a adequação entre um meio e o respectivo fim (princípio da proporcionalidade em sentido amplo) aquele Tribunal afirmou no Acórdão n.º 634/93, o seguinte: «O princípio da proporcionalidade desdobra-se em três subprincípios: princípio da adequação (as medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias devem revelar-se como um meio para a prossecução dos fins visados, com salvaguarda de outros direitos ou bens constitucionalmente protegidos); princípio da exigibilidade (essas medidas restritivas têm de ser exigidas para alcançar os fins em vista, por o legislador não dispor de outros meios menos restritivos para alcançar o mesmo desiderato); princípio da justa medida ou proporcionalidade em sentido estrito (não poderão adoptar-se medidas excessivas, desproporcionadas para alcançar os fins pretendidos).» O Tribunal Constitucional também já foi chamado a pronunciar-se sobre a constitucionalidade de normas legais concernentes à fixação da remuneração dos peritos chamados a intervir nos processos judiciais para a realização de provas periciais. No Acórdão n.º 380/2006, foi entendido que quando o regime de fixação da remuneração possa ser adequado, caso a caso, ao grau de exigência ou ao relevo da perícia efectuada a inexistência de um limite máximo a essa remuneração não viola a garantia constitucional do acesso ao direito. Nos Acórdãos n.os 656/2014[4] e 16/2015[5] tratou-se da situação inversa, a da existir um limite máximo à remuneração que não possa ser superado ainda que o tipo de serviço, os usos do mercado, a complexidade da perícia e o trabalho necessário à sua realização justificassem remuneração superior, tendo-se concluída pela inconstitucionalidade da norma que consagre essa solução. No Acórdão n.º 656/2014 assinalou-se que “constituindo a remuneração dos intervenientes acidentais no processo um encargo do processo, o seu valor releva para o apuramento do montante devido a título de custas pela parte que vier a ser condenada no seu pagamento. Desta forma, qualquer aumento na remuneração do perito tem inevitavelmente consequências no montante das custas a apurar”. Daí que se justifique analisar se essa remuneração é adequada e proporcional à participação do perito no processo. Muito embora o agente de execução não seja um perito, tal como este ele intervém no processo como auxiliar da justiça, como terceiro que é chamado a colaborar com o tribunal praticando actos necessários para que o tribunal possa conduzir e decidir com segurança o litígio que o processo envolve. O que sucede é que a sua intervenção é muito mais ampla, sendo mesmo chamado a praticar, com poderes de autoridade pública, actos processuais específicos do processo executivo. Mas a circunstância de se tratar de um profissional liberal que exerce funções públicas e de estar estatutariamente sujeito a um regime específico de acesso à profissão e respectiva formação, incompatibilidades e impedimentos, direitos e deveres, remuneração dos seus serviços, controlo e disciplina, não pode justificar que a sua remuneração possa ser fixada de acordo com as puras regras de mercado ou que não deva ser limitada, balizada por uma adequada ponderação entre o resultado da sua participação e o que é exigível que o executado possa ter de suportar a título de custas com um processo executivo a que deu causa mas que não passa de uma prestação do sistema de justiça para o qual o executado contribui já, como todos os cidadãos, com os seus impostos. O Estado, gozando embora de liberdade quanto à forma de organizar o sistema judiciário, de administrar os recursos afectos ao sistema de justiça, de definir e modelar os papéis dos vários intervenientes nesse sistema, não pode, no entanto, a pretexto de que a liberalização ou privatização de alguns desses papéis permite alcançar de forma mais eficaz e célere as finalidades do sistema, criar ónus particularmente gravosos e desproporcionados para os cidadãos que por qualquer razão, voluntária ou involuntária, se defrontam, activa ou passivamente, com a necessidade de usar os mecanismos públicos de resolução de conflitos de direitos. Como refere Maria Lúcia Amaral, in loc. cit., pág. 187, se «se tolerasse que os encargos impostos pelas suas decisões aos cidadãos fossem desmedidos, não justificados pelos seus fins específicos e – por isso mesmo – levianos, dificilmente se conseguiria assegurar a ideia segundo a qual a actividade estadual deve surgir, para os seus destinatários, como algo sério, seguro ou confiável. Ora […] um poder político assim, incapaz de merecer a confiança daqueles a quem se dirige, não pode ser nunca um poder limitado pelo direito e destinado a garantir a justiça, a dignidade da pessoa humana e a liberdade. O princípio da proibição do excesso, que postula a mensurabilidade de todos os actos estaduais, integra o conteúdo material do princípio do Estado de direito exactamente pelas mesmas razões por que o fazem os outros princípios […] e que visam assegurar a calculabilidade possível dos comportamentos públicos. É que não haverá nunca tal calculabilidade aí onde não for estabelecido o seguinte princípio de segurança: os actos estaduais, além de serem actos previsíveis, devem ser também, sempre, actos equilibrados, medidos e ponderados.» No âmbito do Código das Custas Judiciais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224-A/96, de 26 de Novembro, estava prevista a retribuição a pagar pelo executado às entidades encarregadas da venda extrajudicial. Segundo o artigo 34.º, alínea e), do referido Código, essa remuneração era fixada pelo tribunal até 5% do valor da causa ou dos bens vendidos, se este for inferior, solução que permitia controlar judicialmente o montante da remuneração em função do volume do trabalho do encarregado da venda e do resultado da sua actuação. A mesma solução encontra-se hoje consagrada no artigo 17.º do Regulamento das Custas Processuais, conjugado com a tabela IV, não permitindo que o montante da remuneração atinja valores desmesurados e injustificados. A solução da Portaria n.º 282/2013 para a remuneração variável do agente de execução sai fora deste modelo e permite que o seu valor escape ao controle jurisdicional da sua adequação e proporcionalidade ao não prever um limite máximo para a remuneração adicional e consentir que a mesma seja obtida e possa atingir valores significativos ainda que a acção executiva tenha tido uma tramitação muito simples e a actuação do agente de execução tenha sido escassa e muito pouco relevante para o desfecho da execução. Repete-se que o que está em causa não é a adequação desse valor às regras de mercado ou aos usos correntes sobre margens dos agentes envolvidos na comercialização de bens em sectores liberalizados. O que está em causa é a adequação desse valor àquilo que é exigível que um executado deva suportar a título de custas da execução, sendo certo que essa exigibilidade tem de ser aferida segundo critérios de razoabilidade, adequação, equidade, justa medida, de forma a concretizar uma justa distribuição dos custos de funcionamento do sistema judicial pelas pessoas que a ele recorrem, sem descurar que se trata do acesso a uma função soberana do Estado e do exercício do direito fundamental de acesso à justiça e aos tribunais. Na medida em que conduza, como sucede no caso, a que o agente de execução possa reclamar o direito a uma remuneração variável superior a €73.000,00 (!) quando apenas procedeu à penhora de quatro imóveis indicados pelo exequente e já hipotecados para garantia do crédito exequendo e, por sua iniciativa, à penhora de um crédito, após o que a execução se extinguiu por acordo de pagamento entre exequente e executado, a nosso ver, o artigo 50.º, n.º 5, em conjugação com a tabela VIII, da Portaria n.º 282/2013, é inconstitucional por violação dos princípios da proporcionalidade e da proibição do excesso ínsitos no princípio do Estado de direito democrático consignado no artigo 2.º da Constituição. Numa determinada perspectiva é ainda inconstitucional por violação do direito de acesso à justiça e aos tribunais na medida em que da referida norma resulte responsabilidade para o próprio exequente, o qual, face ao custo desmesurado que poderá ter de suportar com o pagamento ao agente de execução nos casos em que o seu direito de crédito tenha um valor significativo, verá significativa e desproporcionadamente cerceado o seu direito de acesso à justiça sempre que for incerta a existência de bens cuja penhora e venda possa gerar um produto suficiente para aquele pagamento. Pelo exposto, com fundamento na sua inconstitucionalidade, esta Relação deve recusar a aplicação do disposto no artigo 50.º, n.º 5, em conjugação com a tabela VIII, da Portaria n.º 282/2013, de 29 de Agosto. Em consequência, embora não pela fundamentação dela constante mas com fundamento na aludida inconstitucionalidade, deve ser confirmada a decisão recorrida na parte em que determina a eliminação da parcela de remuneração variável constante da nota de honorários apresentada pelo recorrente. Ac. disponível em http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/55e04d9389b3905080257fd300379b5a?OpenDocument&Highlight=0,agente,de,execu%C3%A7%C3%A3o,n%C3%A3o,pode,cobrar,remunera%C3%A7%C3%A3o,adicional%20
Nascituro indemnizado pela morte do pai 21 Julho 2016 | UDIREITO O Supremo Tribunal Administrativo (STA) decidiu que um bebé que se encontre no ventre materno tem direito a ser indemnizado pelos danos resultantes da morte do seu pai, vítima de acidente de viação, quando esta tenha ocorrido antes do seu nascimento. O caso: Em março de 1998, um condutor, motorista de profissão, morreu em resultado de um acidente de viação depois do veículo que conduzia ter embatido numa tampa de saneamento, com uma altura de cerca de cinco centímetros acima do pavimento da estrada, e se ter despistado, embatendo contra um pinheiro. Tampa essa cuja presença não estava assinalada e que não era visível para quem circulasse na estrada, sobretudo à noite, que fora quando ocorrera o acidente. À data da morte do condutor, a sua companheira estava grávida do seu filho, que viria a nascer em dezembro de 1998. Em consequência, ela e o filho recorreram a tribunal exigindo o pagamento de uma indemnização à Estradas de Portugal, considerada responsável pelo acidente. O tribunal condenou a Estradas de Portugal a pagar uma indemnização ao filho da vítima no valor de 50.000 euros, pela perda do direito à vida do pai, por via sucessória, decisão que este considerou insuficiente e da qual recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo reclamando, também, uma indemnização por danos não patrimoniais e por ter ficado privado da respetiva prestação alimentar. Apreciação do Supremo Tribunal Administrativo: O Supremo Tribunal Administrativo (STA) concedeu parcial provimento ao recurso condenando, também, a Estradas de Portugal a pagar ao filho da vítima, a título de indemnização, 30.000 euros pelo dano não patrimonial próprio e 37.800 euros pela privação da prestação alimentar devida, num total de 67.800 euros. Decidiu o STA que um bebé que se encontre no ventre materno tem direito ser indemnizado pelos danos resultantes da morte do seu pai, vítima de acidente de viação, quando esta ocorra antes do seu nascimento. Segundo o STA, o legislador, ao consagrar que, por morte da vítima, o direito à indemnização por danos não patrimoniais cabe aos filhos, não fez qualquer distinção entre filhos já nascidos à data da morte do pai e filhos já concebidos, mas só nascidos em data posterior. E não o fez de forma consciente. Por um lado, porque os danos morais decorrentes da morte de um pai são precisamente iguais para o filho que nasceu um dia antes desse óbito e para aquele que nasceu um dia depois, pelo que desta igualdade não podem resultar efeitos jurídicos distintos. Por outro lado, é sempre enquanto filho, já nascido e vivente e, não enquanto nascituro, que o filho apenas concebido à data da morte do pai, reclama o pagamento de uma indemnização ao lesante. Assim, é inequívoco que um nascituro adquire retroativamente todos os direitos que pertençam ou sejam reconhecidos ao filho biológico, a partir do seu nascimento completo e com vida. Pelo que tem de lhe ser reconhecido, depois desse seu nascimento com vida, o direito a exigir uma indemnização pelos danos não patrimoniais resultantes da morte do pai, relacionados com o facto de nunca o ter chegado a conhecer, nem a poder partilhar da sua companhia e afeto, e de se sentir desamparado de conselhos e proteção desse mesmo progenitor ao longo das várias fases da sua vida. De outro modo estar-se-ia a negar aos filhos nascidos após a morte do pai essa qualidade de filhos que adquiram, de pleno direito, após o seu nascimento. Nesse sentido, concluiu o Supremo Tribunal Administrativo ser adequada a atribuição de uma indemnização no valor 30.000 euros, a título de danos não patrimoniais, tendo em conta que a vítima falecera com apenas 25 anos de idade e que o seu filho passara toda a infância e adolescência privado da presença paterna. Valor ao qual deve acrescer a importância devida a título de alimentos. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo n.º 01485/14, de 30 de junho de 2016
Avisam se os nossos estimados clientes que encerramos pata férias no período de 16 de Agosto a 02 de Setembro de 2016.
Mediação imobiliária, regime de exclusividade e direito a remuneração/"comissão" O Tribunal da Relação de Évora (TRE) decidiu que a celebração de contrato de mediação imobiliária em regime de exclusividade não afasta a possibilidade do proprietário aceitar negócio que diretamente lhe seja proposto por interessado não angariado pela mediadora. Tratou-se de um caso em que um particular celebrou um contrato de mediação imobiliária, em regime de exclusividade, para a venda do imóvel do qual era comproprietário. Na sequência e nos termos do contrato, a mediadora imobiliária publicitou o imóvel e mostrou-o a diversos interessados, tendo um deles apresentado um proposta. O comproprietário não aceitou a proposta e pediu para que fosse "cancelado" o contrato porque um comproprietário, seu irmão, ia ficar com a casa. Posteriormente, os comproprietários venderam a casa a terceiro. A mediadora reclamou o pagamento da remuneração acordada, primeiro por carta e depois por via judicial. O tribunal julgou a ação improcedente, decisão com a qual a mediadora não se conformou, pelo que, recorreu para o TRE defendendo que, tendo o contrato sido celebrado em regime de exclusividade, ela tinha direito a receber a comissão. O TRE negou provimento ao recurso, decidindo que a celebração de contrato de mediação imobiliária em regime de exclusividade não afasta a possibilidade do proprietário aceitar negócio que diretamente lhe seja proposto por interessado não angariado pela mediadora. Segundo a Lei, quando a empresa de mediação é contratada em regime de exclusividade, só ela tem o direito de promover o negócio objeto do contrato de mediação durante o respetivo período de vigência. Mas, se essa exclusividade exclui necessariamente a intermediação no mesmo negócio de outra mediadora, tal não significa que ela exclua também o próprio comitente, se lhe aparecer uma proposta de compra. Nesse caso, o comitente não pode diligenciar no sentido de angariar, por si, interessados no negócio, mas não fica impedido de aceitar qualquer proposta que lhe seja apresentada por alguém que espontaneamente se lhe dirija revelando o seu interesse na compra do imóvel. Pelo que, quando o faça e venda o imóvel a um terceiro que não tenha sido apresentado pela mediadora, não pode esta reclamar o pagamento da remuneração estipulada no contrato. (cfr. Acórdão do TRE, processo n.º 7120/13.0TBSTB.E1, de 5 de novembro de 2015)
Proteção na morte dos casais em união de facto Na união de facto, à semelhança do casamento, há uma comunhão de leito, mesa e habitação. Contudo, os casais unidos de facto não recebem da lei a mesma proteção que os casais unidos pelo matrimónio, nomeadamente, no caso de falecimento de um dos membros do casal. Ao contrário dos casados, os unidos de facto não são herdeiros um do outro. Quando uma pessoa casada morre, a lei confere ao cônjuge sobrevivo o direito automático a uma parte da herança. Pelo contrário, numa união de facto, em caso de morte, não há direito a herança do companheiro a não ser que essa vontade fique expressa em testamento. Por outro lado, em caso de morte do unido de facto que seja proprietário da casa de morada da família onde habitam, aquele que sobrevive tem direito a viver na casa e a usufruir do recheio pelo prazo de cinco anos, prazo esse que pode ser alargado por tempo igual ao da duração da união, sempre que esta tenha tido início há mais de cinco anos. Este prazo pode ainda ser alargado em caso de comprovada carência económica. Por outro lado, caso o interessado não habitar a casa por mais de um ano, estes direitos caducam, a não ser que exista um motivo de força maior. O companheiro que sobrevive só não pode usufruir da casa de morada de família se tiver casa própria no mesmo concelho. Na hipótese de a casa ser arrendada, o companheiro sobrevivo tem direito à transmissão do contrato de arrendamento, beneficiando também do direito de preferência em caso de o imóvel ser vendido. Acresce que quem vivia em união de facto tem direito às prestações por morte, à semelhança dos cônjuges, como a proteção social em caso de morte do beneficiário e as prestações por morte resultante de acidente de trabalho. Contudo, para o reconhecimento da união de facto, é necessário provar que o casal partilha a vida há, pelo menos, dois anos. Para isso, basta apresentar uma declaração da Junta de Freguesia da área de residência, de certidões de registo de nascimento e uma declaração do casal, efetuada sob compromisso de honra, de que vivem em união de facto há mais de 2 anos.
A FALTA JUSTIFICADA POR FALECIMENTO DO CÔNJUGE, PARENTES OU AFINS DO TRABALHADOR A falta, nos termos do disposto no artigo 248º, n.º 1, do Código do Trabalho (doravante, CT), é a ausência do trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário; e constitui a quebra do dever de assiduidade estatuído no artigo 128º, n.º 1, alínea b), do mesmo diploma legal. A lei distingue duas categorias de faltas: justificadas e injustificadas. As primeiras são as enumeradas no artigo 249º, n.º 2, do CT, e abrangem, ainda, outras situações expressamente previstas naquele Código e em outros diplomas avulsos; ao passo que as segundas são determinadas por exclusão partes, ou seja, são todas aquelas que não estejam previstas na lei como justificadas. As faltas por falecimento de cônjuge, parentes ou afins do trabalhador são consideradas justificadas pelo disposto no artigo 249º, n.º 2, alínea b), do CT. Nos termos do artigo 251º do CT, o trabalhador pode faltar justificadamente até 5 dias consecutivos, por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens ou de parente ou afim no 1º grau da linha recta (pai, mãe, padrasto, madrasta, sogro, sogra, filho, filha, enteado, enteada, genro e nora) bem como de pessoa com quem via em união de facto ou em economia comum. Ainda de acordo com a referida norma, o trabalhador pode faltar 2 dias consecutivos em caso de falecimento de outro parente ou afim na linha recta (bisavô, bisavó, avô, avó, neto, neta, bisneto e bisneta, do próprio ou do cônjuge) ou no 2º grau da linha colateral (irmão, irmã, cunhado e cunhada). O artigo 23º, n.º 1, alínea a), do regime jurídico do apadrinhamento civil, aprovado pela Lei n.º 103/2009, de 11 de Setembro, estende a padrinhos e afilhados a aplicação do regime estipulado para pais e filhos. As referidas faltas têm início, independentemente do dia em que ocorrem, no dia do falecimento, no do seu conhecimento ou no da realização da cerimónia fúnebre, segundo opção do interessado. Os dias de descanso intercorrentes e os dias feriados não relevam para o cômputo do período de ausência que, porém, deve ser usufruído de modo consecutivo.
Impenhorabilidade de casa de morada de família Já entrou em vigor, aplicando-se a todos os processos pendentes, a Lei n.º 13/2016, de 23 de maio, que impede que a Administração Fiscal possa penhorar os imóveis que sejam destinados exclusivamente a habitação própria e permanente dos devedores ou do seu agregado familiar, quando os mesmos estejam efetivamente afectos a esse fim. A excepção a esta regra apenas se aplica aos imóveis cujo valor tributável se enquadre, no momento da penhora, na taxa máxima prevista para a aquisição de prédio urbano ou de fracção autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, em sede de imposto sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), ou seja, valor superior a € 574 323.
TOP 10- MEDIDAS DO SIMPLEX PARA MELHORAR A SUA VIDA FAMILIAR. 1. Trabalhadores dependentes vão deixar de entregar o IRS E se lhe dissessem que não é necessário preencher mais o IRS, não ficava feliz? Para muitos contribuintes essa será em breve uma realidade. Uma das medidas do Programa Simplex pretende “acabar gradualmente com a necessidade de entrega da declaração de IRS para os contribuintes que apenas aufiram rendimentos de trabalho dependente (categoria A) e para os aposentados e reformados (categoria H)”, até ao final do primeiro trimestre de 2017. Para estes contribuintes o IRS será apurado automaticamente com base na informação enviada pelas diversas entidades à Autoridade Tributária. 2. Emissão e revalidação da carta de condução poderá ser feita sem sair de casa Quem tirar a carta de condução ou pretender revalidar este documento vai poder fazê-lo sem ter de se deslocar ao balcão de nenhuma entidade, já que poderá tratar de toda a papelada a partir de casa. Segundo explica o dossier detalhado com a explicação das medidas do Simplex, o atestado médico será enviado diretamente pelo médico ao IMT, por exemplo. Além disso, no final, o consumidor vai receber um SMS ou um mail alertando-o de que a carta de condução foi enviada para a morada referida. 3. Criação do Espaço Óbito Quando um familiar morre há uma série de burocracias que têm de ser tratadas e o falecimento deverá ser comunicado diversas entidades (ex: Finanças, Segurança Social). Para facilitar este processo, será criado até ao segundo trimestre de 2017 o Espaço Óbito. O objetivo é “reunir num único local de atendimento um conjunto de serviços transversais a várias entidades públicas e privadas a que é necessário recorrer após o falecimento de um familiar”. 4. Processo de obtenção da isenção do IMI será mais simples É uma boa notícia para os contribuintes: sempre que a AT já disponha das informações necessárias, a isenção do IMI é atribuída automaticamente, ficando os contribuintes dispensados de fazer o pedido de isenção às Finanças. Ou seja, quem comprar uma casa para habitação própria e permanente (e tiver os requisitos para estar isento do pagamento do IMI durante os primeiros anos) não precisará de submeter o pedido junto do Fisco. 5. Será criada uma ‘app’ para facilitar o pagamento de impostos Pagar os impostos através de um ‘smartphone’ vai ser possível no futuro. Isto porque o ministério das Finanças quer criar uma aplicação móvel com avisos de pagamento de impostos. Sendo que numa fase posterior o objetivo é permitir que esta ‘app’ permita fazer o pagamento dos impostos, por débitos diretos, através do telemóvel e do ‘tablet’. 6. As penhoras serão limitadas Ainda no campo fiscal há uma outra medida que será bem-vinda junto dos contribuintes que têm dívidas fiscais e sejam alvo de penhoras. Segundo a brochura do Simplex, o ministério das Finanças vai criar um mecanismo que permita limitar as penhoras dos saldos bancários ao valor efetivamente em dívida. A ideia deste mecanismo é evitar a penhora integral do saldo dos contribuintes. 7. Voto em mobilidade Até agora não é possível para um cidadão participar nas eleições através do voto antecipado. Mas o objetivo é criar essa possibilidade. Para isso, o ministério da Administração Interna, prevê adotar “mecanismos de aprofundamento da participação democrática dos cidadão, mediante o alargamento do exercício do direito de sufrágio antecipado e em qualquer lugar”. 8. Abrir uma conta bancária será possível apenas com o Cartão do Cidadão Atualmente, para um consumidor abrir uma conta em qualquer banco é imperativo que apresente uma série de documentos. (Exemplo: bilhete de identidade ou cartão do cidadão, cartão de contribuinte, comprovativo de morada, comprovativo de profissão e entidade patronal, entre outros). Mas até ao final do terceiro trimestre de 2017 a situação será diferente. O ministério da Presidência e da Modernização Administrativa quer possibilitar a abertura de conta bancárias apenas com a apresentação do Cartão do Cidadão, “comunicando-se automaticamente os dados necessários relativos à identificação, morada e situação laboral do cliente”. 9. Documentos sempre válidos Quantas vezes não deixou caducar a validade de um documento (B.I, cartão do cidadão ou passaporte) e só se apercebeu disso mesmo quando precisou de utilizar o documento numa situação específica? A partir de agora será mais difícil deixar passar o prazo de validade dos principais documentos oficiais, já que o Estado vai passar a alertar os cidadãos, por SMS ou mail, com avisos sobre o fim do prazo de validade dos documentos. 10. Registo criminal pode ser pedido pela internet Os cidadãos vão poder solicitar o certificado de registo criminal pela internet, através de uma plataforma online.
Quiz